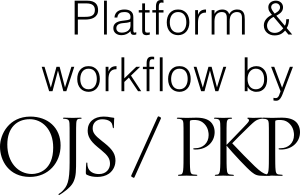Teorias implícitas de profissionais da Educação sobre crianças, adolescentes e famílias em situação de pobreza
Palavras-chave:
Teorias implícitas, Crenças, Escola pública, Pobreza, Profissionais da EducaçãoResumo
O presente estudo teve por objetivo investigar teorias implícitas dos profissionais da Educação sobre crianças, adolescentes e famílias em situação de pobreza. Participaram 102 profissionais da Educação de escolas públicas, sendo utilizados instrumentos de evocação livre de palavras e ideias. As análises realizadas foram de cunho qualitativo e quantitativo para propiciar uma visão mais integrativa do fenômeno. Os resultados evidenciaram que grande parte dos profissionais atribuiu adjetivos negativos às crianças, adolescentes e famílias pobres. Apesar da expressiva maioria (65%) dos educadores ter formação superior em nível de pós-graduação, as percepções dos profissionais foram negativas, independentemente de sua experiência anterior de trabalho direto com essas populações. Concluímos que é premente a elaboração de intervenções com conhecimentos específicos sobre o fenômeno da pobreza e privação social para provocar uma reflexão macrossistêmica desses agentes sobre o trabalho com populações que vivem as adversidades da situação de pobreza.
Referências
Amatea, E. S., Cholewa, B., & Mixon, K. A. (2012). Influencing Preservice Teachers’ Attitudes About Working with Low-Income and/or Ethnic Minority Families. Urban Education, 47(4), 801-834. Retrieved from https://doi.org/10.1177/0042085912436846.
Angelucci, C. B., Kalmus, J., Paparelli, R., & Patto, M. H. S. (2004). O estado da arte da pesquisa sobre o fracasso escolar (1991-2002): um estudo introdutório. Educação e Pesquisa, 30(1), 51-72. Recuperado de https://doi.org/10.1590/S1517-97022004000100004.
Bronfenbrenner, U. (1996). A ecologia do desenvolvimento humano: experimentos naturais e planejados (M. A. V. Veronese, Trad.). Porto Alegre: Artmed.
Bronfenbrenner, U. (2011). Bioecologia do desenvolvimento humano: tornando os seres humanos mais humanos. Porto Alegre: Artmed.
Bronfenbrenner, U., & Morris P. (1998). The Ecology of Developmental Processes. In W. Damon (Ed.). Handbook of Child Psychology (pp. 993-1027). New York, NY: John Wiley & Sons.
Brophy, J. E. (1983). Research on the Self-Fulfilling Prophecy and Teacher Expectations. Journal of Educational Psychology, 75(5), 631-661. Retrieved from https://doi.org/10.1037/0022-0663.75.5.631.
Cochran-Smith, M., & Villegas, A. (2016). Preparing Teachers for Diversity and High-Poverty Schools: A Research-Based Perspective. In J. Lampert & B. Burnett (Eds.). Teacher Education for High Poverty Schools. Education (Vol. 2, pp. 9-31). Doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-22059-8.
Conceição, V. L., & Zamora, M. H. (2015). Desigualdade social na escola. Estudos de Psicologia, 32(4), 705-714. Recuperado de https://dx.doi.org/10.1590/0103-166X2015000400013.
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. (1988). Brasília, DF. Recuperado de https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.
Curi, P. R. (1980). Associação, homogeneidade e contrastes entre proporções em tabelas contendo distribuições multinomiais. Ciência e Cultura, 33(5), 713-722. Recuperado de https://ci.nii.ac.jp/naid/10027479268/.
De La Barra, A. V. N. (2016). Facilitadores de reflexión docente durante la práctica profesional en escuelas vulnerables de Concepción. Educadi, 1(1), 41-54. Doi: 10.7770/EDUCADI-V1N1-ART995.
Domingues, A. L. (2013). Imagens associadas às famílias de crianças e jovens em acolhimento institucional. Dissertação de mestrado não publicada, Instituto Universitário de Lisboa, Lisboa, Portugal.
D’Haem, J., & Griswold, P. (2017). Teacher Educators’ and Student Teachers’ Beliefs About Preparation for Working with Families Including Those from Diverse Socioeconomic and Cultural Backgrounds. Education and Urban Society, 49(1), 81-109. Retrieved from https://doi.org/10.1177/0013124516630602.
Engler, J. N., Strassle, C. G., & Steck, L. W. (2019). The Impact of a Poverty Simulation on Educators’ Attributions and Behaviors. The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 92(4-5), 174-182. Doi: 10.1080/00098655.2019.1648233.
Epstein, J. L. (2011). School, Family, and Community Partnerships: Preparing Educators and Improving Schools. Baltimore, Johns Hopkins University: Westview Press.
Glidden, R. F. (2018). Comunicação família e escola: tensões e desafios. Revista da Faculdade de Educação, 29(1), 159-74. Doi: 10.30681/21787476.2018.29.159174.
Garcia, N. M., & Yunes, M. A. M. (2006). Resiliência familiar: baixa renda e monoparentalidade. In D. Dell’Aglio, S. H. Koller & M. A .M. Yunes (Eds.). Resiliência e psicologia positiva: interfaces do risco à proteção (pp. 117-140). São Paulo: Casa do Psicólogo.
Gómez-Nocetti, V., Gutiérrez-Rivera, P., Gaete-Silva, A., & Marqués-Rosa, M. L. (2019). Creencias de los formadores de profesores de distinto tipo de universidades sobre escuelas en contextos de pobreza. Formación universitaria, 12(1), 95-108. Recuperado de https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062019000100095.
Gibson, E. L., & Barr, R. D. (2017). Building a Culture of Hope: Exploring Implicit Biases Against Poverty. National Youth-At-Risk Journal, 2(2). Doi: 10.20429/Nyarj.2017.020203.
Gorski, P. (2016). Poverty and the Ideological Imperative: A Call to Unhook from Deficit and Grit Ideology and to Strive for Structural Ideology in Teacher Education. Journal of Education for Teaching, 42(4), 378-386. Doi: 10.1080/02607476.2016.1215546.
Hornby, G., & Lafaele, R. (2011). Barriers to Parental Involvement in Education: An Explanatory Model. Educational Review, 63(1), 37-52. Doi: 10.1080/00131911.2010.488049.
Larocca, P., Prachum, B. N., & Santos, N. (2016). Representações dos professores sobre adolescentes estudantes da escola pública. Olhar de Professor, 19(1), 84-106. Recuperado de http://www.uepg.br/olhardeprofessor.
Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. (1996). Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF. Recuperado de http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm.
Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990. (1990). Dispões sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Brasília, DF. Recuperado de http://www.planalto.gov.br/.
Matos, L. A., Cruz, E. J. S., Santos, T. M. dos, & Silva, S. S. C. (2018). Resiliência familiar: o olhar de professores sobre famílias pobres. Psicologia Escolar e Educacional, 22(3), 493-501. Recuperado de https://dx.doi.org/10.1590/2175-35392018038602.
Navarro, L. (2004). La escuela y las condiciones sociales para aprender y enseñar: equidad social y educación en sectores de pobreza urbana. Buenos Aires: Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación IIPE. Unesco.
Neri, M. C. (2019). A escalada da desigualdade: qual foi o impacto da crise sobre a distribuição de renda e a pobreza? Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas. Recuperado de https://www.cps.fgv.br/cps/bd/docs/A-Escalada-da-Desigualdade-Marcelo-Neri-FGV-Social.pdf.
Paulilo, A. (2017). A compreensão histórica do fracasso escolar no Brasil. Cadernos de Pesquisa, 47(166), 1252-1267. Recuperado de https://doi.org/10.1590/198053144445.
Patto, M. H. S. (1988). O fracasso escolar como objeto de estudo: anotações sobre as características de um discurso. Cadernos de Pesquisa, 65, 72-77. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6208435.
Patto, M. H. S. (2015). A produção do fracasso escolar: histórias de submissão e rebeldia (4a ed.). São Paulo: Casa do Psicólogo.
Petrucci, G. W., Borsa, J. C., & Koller, S. H. (2016). A família e a escola no desenvolvimento socioemocional na infância. Temas em Psicologia, 24(2), 391-402. Recuperado de https://dx.doi.org/10.9788/TP2016.2-01Pt.
Polonia, A. C., & Dessen, M. A. (2005). Em busca de uma compreensão das relações entre família e escola. Psicologia Escolar e Educacional, 9(2), 303-312. Recuperado de https://doi.org/10.1590/S1413-85572005000200012.
Rissanen I., Kuusisto, E., Hanhimäki, E., & Tirri K. (2018) Teachers’ Implicit Meaning Systems and Their Implications for Pedagogical Thinking and Practice: A Case Study from Finland, Scandinavian. Journal of Educational Research, 62(4), 487-500. Doi: 10.1080/00313831.2016.1258667.
Rodrigo, M. J., Rodrígues, A., & Marrero, J. (1993). Las teorías implícitas: una aproximación al conocimiento cotidiano. Madrid: Visor.
Rutter, M. (2012). Resilience as a Dynamic Concept. Development and Psychopathology, 24(2), 335-344. Retrieved from https://doi.org/10.1017/S0954579412000028.
Saraiva-Junges, L. A, & Wagner, A. (2013). A relação família-escola sob a ótica de professores e pais de crianças que frequentam o Ensino Fundamental. Ensaio: Aval. Pol. Públ. Educ., 21, 81,739-772. Recuperado de https://doi.org/10.1590/S0104-40362013000400006.
Saraiva-Junges, L. A., & Wagner, A. (2016). Os estudos sobre a relação família-escola no Brasil: uma revisão sistemática. Educação, 39(Esp), s114-s124. Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/848/84850103013.pdf.
Tobisch, A., & Dresel, M. (2020). Fleißig oder faul? Welche Einstellungen und Stereotype haben angehende Lehrkräfte gegenüber Schüler* innen aus unterschiedlichen sozialen Schichten?. In Stereotype in der Schule (pp. 133-158). Springer VS, Wiesbaden. Recuperado de https://doi.org/10.1007/978-3-658-27275-3_5.
Wagner, A., González, M. del L. T., Saraiva-Junges, L. A., & Hernández, E. (2019). Los docentes frente a las demandas de las famílias: aproximando contextos. Revista Eletrônica de Educação, 13(2), 600-618. Recuperado de http://dx.doi.org/10.14244/198271992543.
Waiselfisz, J. J. (2015). Mapa da violência: adolescentes de 16 e 17 anos do Brasil. Rio de Janeiro: Flacs. Recuperado de http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2015/mapaviolencia2015_adolescentes.
Williams, J. M., Greenleaf, A. T., Barnes, E. F., & Scott, T. R. (2019). High-Achieving, Low-Income Students’ Perspectives of How Schools Can Promote the Academic Achievement of Students Living in Poverty. Improving Schools, 22(3), 224-236. Retrieved from https://doi.org/10.1177/1365480218821501.
Yunes, M. A. M., & Szymanski, H. (2001). Resiliência: noção, conceitos afins e considerações críticas. In J. Tavares (Ed.). Resiliência e Educação (pp. 13-42). São Paulo: Cortez.
Yunes, M. A. M., Garcia, N. M., & Albuquerque, B. de M. (2007). Monoparentalidade, pobreza e resiliência: entre as crenças dos profissionais e as possibilidades da convivência familiar. Psicologia: Reflexão e Crítica, 20(3), 444-453. Recuperado de https://doi.org/10.1590/S0102-79722007000300012.
Yunes, M., A. M., & Szymanski, H. (2003). Crenças, sentimentos e percepções acerca da noção de resiliência em profissionais da Saúde e Educação que atuam com famílias pobres. Psicologia da Educação, 17, 119-137. Recuperado de http://ken.pucsp.br/psicoeduca/article/view/30846.
Zappe, J. G., Yunes, M. A. M., & Dell’Aglio, D. D. (2016). Imagens sociais de famílias com crianças e adolescentes: impacto do status socioeconômico e da institucionalização. Pensando Famílias, 20(1), 83-98. Recuperado de http://pepsic.bvsalud.org/pdf/penf/v20n1/v20n1a07.pdf.
Downloads
Publicado
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2024 Celia Nonato, Maria Angela Mattar Yunes, Luara Carvalho

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autores que publicam neste periódico concordam com os seguintes termos:
a. Autores mantém os direitos autorais e concedem à periódico o direito de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Licença Creative Commons Attribution que permite o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria e publicação inicial neste periódico.
b. Autores têm autorização para assumir contratos adicionais separadamente, para distribuição não-exclusiva da versão do trabalho publicada neste periódico (ex.: publicar em repositório institucional ou como capítulo de livro), com reconhecimento de autoria e publicação inicial neste periódico.
c. Autores têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir seu trabalho online (ex.: em repositórios institucionais ou na sua página pessoal) a qualquer ponto antes ou durante o processo editorial, já que isso pode gerar alterações produtivas, bem como aumentar o impacto e a citação do trabalho publicado (Veja O Efeito do Acesso Livre).