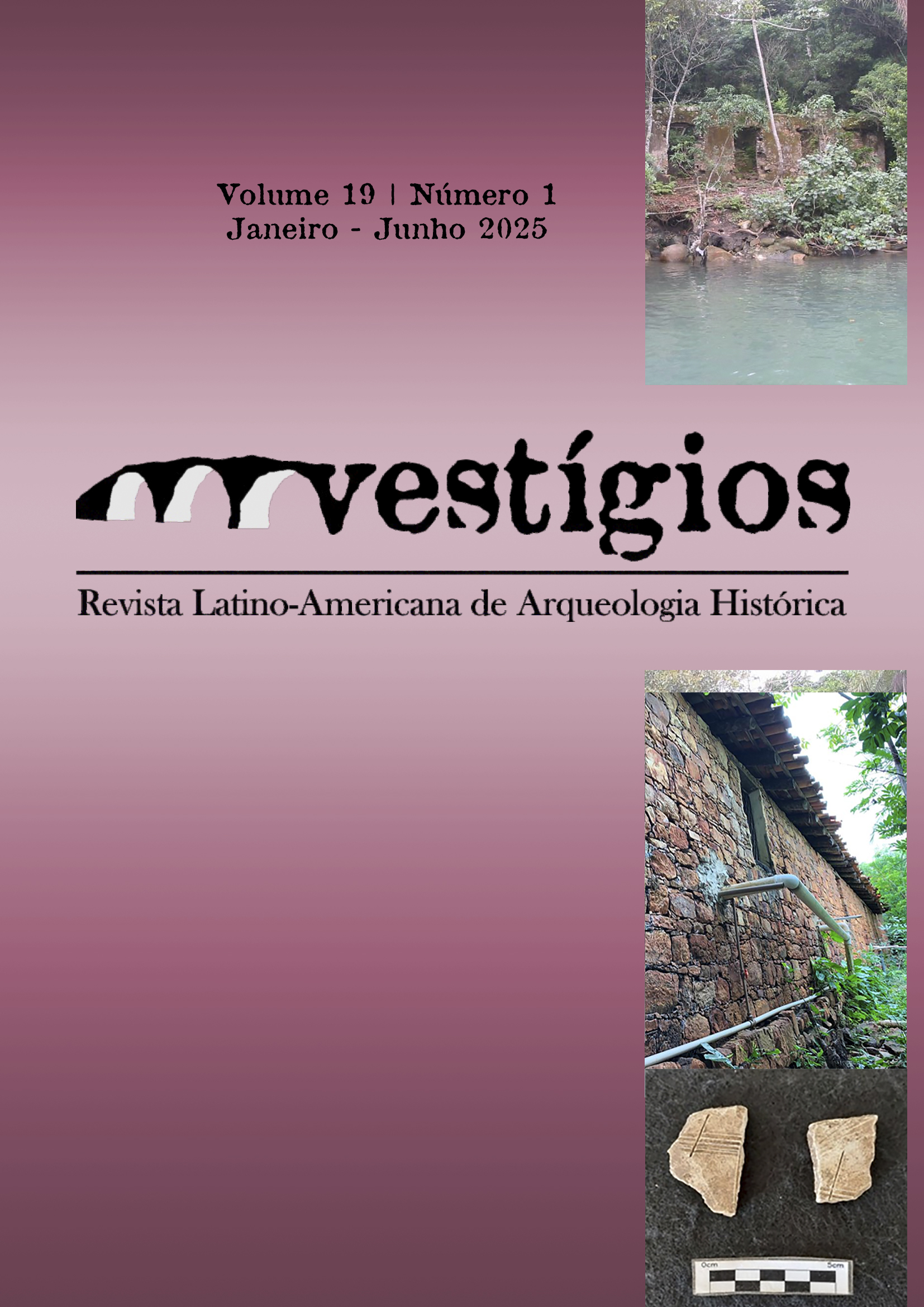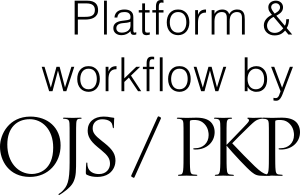Olhar arqueológico para o Anglo, Pelotas/RS
DOI:
https://doi.org/10.31239/kjva4d79Palavras-chave:
Frigorífico, Charqueadas, UniversidadeResumo
O Anglo é um lugar arqueológico multicomponencial, há evidências de ocupação de centenas de anos. Observamos sua presença como evidência de comunidades pré-invasão europeia. O espaço compõe o antigo “passo das pelotas”, embarcações de couro utilizadas por nativos na região; depois constituiu a charqueada do Braga, cujas evidências estão sendo trabalhadas; no início do século XX configura o Frigorífico Rio Grande, substituído depois pelo Frigorífico Anglo e atualmente é a sede da Universidade Federal de Pelotas. Essa dinâmica ocupação vem sendo trabalhada por equipes de arqueologia da UFPel, criando diferentes versões sobre sua ocupação. O texto aborda uma visão no contexto da arqueologia do imaginário e apresenta os estudos em andamento nas perspectivas arqueológicas sobre esse lugar.
Referências
Abreu, R. (2004). Performance e patrimônio intangível: os mestres da arte. Em Teixeira, J. G., Carvalho García, M. V., & Gusmão R. (org). Patrimônio imaterial, performance cultural e (re)tradicionalização (pp. 58-67). Brasília: ICS-UnB.
Andrade, O. de. (1928). Manifesto Antropófago. Revista de Antropofagia, 1(1), 3-7.
Arantes, O. (1998). Urbanismo em fim de linha; e outros estudos sobre o colapso da modernização arquitetônica. São Paulo: EDUSP.
Arantes, A. A. (org.) (2000). O espaço da indiferença. Campinas: Papirus.
Barth, F. (1998). Os grupos étnicos e suas fronteiras. Em Poutignat, P., & Streifffenart, J. (orgs.). Teorias da identidade (pp. 185-227). São Paulo: Ed. Unesp.
Brochado, J. P. (1984). An Ecological model of the spread of pottery and agriculture into Eastern South America. Dissertação (Doutorado). University of Illinois, Urbana-Champaign.
Buchweitz, M. F. R. (2014). Ocupação pré-histórica da Bacia do São Gonçalo: uma análise entre sítios. Dissertação (Bacharelado). Universidade Federal de Pelotas, Instituto de Ciências Humanas, Pelotas.
Carle, A. C. B., Carle, C. B., & Carle, M. B. (2002). Relatório descritivo de dois esqueletos de indivíduos encontrados em trabalho arqueológico no Capão Seco, Rio Grande-RS, pelo pesquisador Pedro Augusto Mentz Ribeiro. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Programa de Pós-graduação em História, Porto Alegre, Janeiro.
Carle, C. B. (2021). As encruzilhadas na formação do lugar e do espírito do lugar na diacronia arqueológica do imaginário do Passo dos Negros - Pelotas – RS. Em Alfonso, L. (org). Passo dos Negros: entre ensino, pesquisa e extensão (pp. 125-149). Pelotas: UFPel.
Carle, C. B. (2022). Relatório e Pedido de Revalidação da Portaria de Permissão do Projeto Macriasul. Projeto Mapeamento arqueológico e cultural dos objetos, lugares, manifestações e pessoas de referencia as sociedades tradicionais indigenas e afro-brasileiras na região sul do Estado do Rio Grande do Sul (MACRIASUL). Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN; 12ª Superintendência Regional; Universidade Federal De Pelotas, Instituto De Ciências Humanas, Departamento de Antropologia e Arqueologia, Pelotas.
Carvalho, M. A. de, & Dantas, F. A. de C. (2008). Do patrimônio cultural material ao imaterial: a inclusão na proteção jurídica aos modos de criar, fazer e viver expressados na musicalidade. Congresso Nacional Do Conpedi (pp. 4.962-4979).
Chmyz, I., & Schmidt, A. (1971). A cultura Payaguá e suas possíveis correlações com a cultura Tupiguarani. Boletim do Instituto Histórico, Geográfico e Etnográfico Paranaense, l3, 61-76.
Copè, S. M. (1985). Aspectos da ocupação pré-colonial no vale do Rio Jaguarão – RS. Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo.
Cruz, U. B. (2013). Frigorífico Anglo de Pelotas, uma nova história. Revista Memória em Rede, 3(9), 1-8.
Dias, A. S. (1984). Repensando a tradição Umbu a partir de um estudo de caso. Dissertação (Mestrado). PPGH-IFCH-PUCRS, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
Dos Santos, A. B. (Nego Bispo), & Pereira, S. (2023). A terra dá, a terra quer. São Paulo: Ubu Editora.
Durand, G. (2012). As estruturas antropológicas do imaginário: introdução à arquetipologia. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes.
Fornet-Betancourt, R. (org.) (2003). Culturas y poder - interacción y asimetría entre las culturas en el contexto de la globalización. Bilbao: Desclée De Brouwer.
Funari, P. P. (1989). Brazilian archaeology and world archaeology: some remarks. World Archaeological Bulletin, 3, 60-68.
Funari, P. P. (1991). Archaeology in Brazil: politics and scholarship at a crossroads. World Archaeological Bulletin, 5, 122-132.
Funari, P. P. (1994). Arqueologia brasileira: visão geral e reavaliação. Revista de História da Arte e Arqueologia, 1, 23-41.
Garcia, A. M., & Milheira, R. G. (2013). Gestão de fontes de matéria-prima lítica pelos construtores de cerritos no sul do Brasil: um estudo de caso. Espaço Ameríndio, 7(1), 10-36.
Geertz, C. (1989). Interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.
Geertz, C. (1997). O saber local: novos ensaios em antropologia interpretativa. Petrópolis: Vozes.
Gnecco, C. (2015). La arqueología (moderna) ante el empuje decolonial. Em Gnecco, C., Haber, A. F., & Shepherd, N. (eds.). Arqueología y decolonialidad, pp. 71-122. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Del Signo.
Gottschall, C. de S., & Santana, M. C. de. (2009). Cultura e sociedade no antigo centro de Salvador: mapeamento de referências culturais. Salvador. Disponível em: . [cons. 23 out. 2010].
Gutierrez, E. J. B. (1993). Negros, charqueadas e Olarias: um estudo sobre o espaço pelotense. Pelotas: EDUFPel/Mundial.
Heiddeger, M. (1966). Introdução a Metafísica. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro.
IPHAN (2000). Inventário nacional de referências culturais. Brasília: Departamento de Identificação e Documentação do Iphan.
Janke, N. R. (2011). Entre os valores do patrão e os da nação, como fica o operário: o Frigorífico Anglo de Pelotas - 1940-1970. Pelotas: Cópias Santa Cruz.
Krenak, A. ( 2019). Ideias para adiar o fim do mundo. São Paulo: Companhia das Letras.
Laraia, R. de B. (2000). Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
Le Goff, J. (1994). História e memória. Campinas: UNICAMP.
Lemos, C. A. C. (2000). O que é patrimônio histórico. Vol. 51, Coleção Primeiros Passos. São Paulo: Brasiliense.
Machado, J. S. (2006). Dos artefatos às aldeias: os vestígios arqueológicos no entendimento das formas de organização social da Amazônia. Revista de Antropologia, 49(2), 755-786.
Maffesoli, M. (1994). Le sens commun. Société. Revue des Sciences Humaines et Socieles, 46, 387-397.
Medeiros, M. B. (2022). Pelotas pequena África: territorialidade negra a partir das Festas Black. Dissertação (Doutorado).Universidade Federal de Pelotas, Instituto de Ciências Humanas, Pelotas.
Meneses, U. B. (1984). Identidade cultural e arqueologia. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 20,33-36.
Meneses, U. B. (1988). Arqueologia de salvamento no Brasil: uma avaliação crítica. Seminário sobre política de preservação arqueológica. Rio de Janeiro.
Milheira, R. G. (2008). Um modelo de ocupação regional Guarani no sul do Brasil. Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia, 18, 19-46.
MINC/IPHAN/FUNART (2000). O registro do patrimônio imaterial: dossiê final das atividades da comissão e do grupo de trabalho do patrimônio imaterial. Brasília: Departamento de Identificação e Documentação.
Neves, W. (1988). Arqueologia brazileira - algumas considerações. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, Antropologia, 4(2), 200-205.
Noelli, F. S. (1993). Sem tekohá não há tekó (Em busca de um modelo etnoarqueológico da aldeia e da subsistência Guarani e sua aplicação a uma área de domínio no delta do Jacuí - RS). Dissertação (Mestrado). IFCH da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
Nimuendajú, C. U. 1987 [1914]. As lendas da criação e destruição do mundo como fundamentos da religião dos Apapocúva-Guarani. São Paulo: Edusp-Hucitec.
Oliveira, C. N. P. de (2022). Uma arqueologia zumbérica: sem ciência negra não há consciência. Dissertação (Doutorado). Universidade Federal de Pelotas. Pelotas.
Oliveira, A. P. de P. L. de, & Oliveira, L. M. (2010). Para uma etnografia dos saberes: as estratégias de ação do Projeto “Mapeamento arqueológico e Cultural da Zona da Mata Mineira”. Disponível em: . [cons. 23 out. 2010].
Oliven, R. G. (2006). A parte e o todo. A diversidade cultural no Brasil-nação. Petrópolis: Editora Vozes.
Ortiz, R. (1994). Cultura brasileira & identidade nacional. São Paulo: Brasiliense.
Redman, C. (1973). Multistage field word in and analytical techniques. American Antiquity, 38(1), 61-79.
Reisewitz, L. (2004). Direito ambiental e patrimônio cultura. Direito à preservação da memória, ação e identidade do povo brasileiro. São Paulo: Juarez de Oliveira.
Renfrew, C., & Bahn, P. (1993). Arqueología: teorías, métodos y prácticas. Akal: Barcelona.
Ribeiro, C. J., Mesquita Duarte, A. de, Wruch, B. R., & Meireles, M. A. M. (2024). A cidade e o direito de ocupar. PIXO - Revista de Arquitetura, Cidade e Contemporaneidade, 8(28), 114-127.
Sá, A. J. de. (2006). Regionalização brasileira, cultura, identidade: algumas reflexões. Em Corrêa, A. C. de B., & Sá, A. J. de. (org.). Regionalização e Análise Regional. Perspectivas e abordagens contemporâneas. Recife: Ed. Universitária da UFPE.
Schaan, D. P. (1997). A linguagem iconográfica da cerâmica marajoara. Porto Alegre: EDIPUCRS.
Serres, H. S. (2018). As Estâncias Missioneiras Da Banda Oriental Do Rio Uruguai. Dissertação (Mestrado). Universidade Do Vale Do Rio Dos Sinos, Programa De Pós-Graduação Em História, São Leopoldo, Unisinos.
Sosa González, A.M., Rosa, A. A. O. da, Silva, A. A. da, & Amaral, R. M. (2022). Transmissão e reconhecimento do patrimônio industrial adquirido pela UFPel: caminhos para sua musealização. Revista Memória em Rede, 14(27), 115-147.
Souza Filho, C. F. M. de. (1999). Bens Culturais e Proteção Jurídica. Porto Alegre: Unidade Editorial Porto Alegre.
Souza, F. S. (2002). Arqueologia do cotidiano: hábitos públicos e privados em São Cristóvão – 1850/1920. Anais do 2º Workshop Arqueológico de Xingó (pp. 107-111). Vol. 2. 13 a 16 de outubro. Disponível em: <https://www.yumpu.com/pt/document/view/13842102/anais-do-2-workshop-arqueologico-de-xingo-museu-de->.[cons. 23 out. 2010].
Teixeira, H. S. (2004). Patrimônio Cultural: o Tombamento como instrumento de preservação. Dissertação (Mestrado). Universidade do Estado do Amazonas, Manaus.
Trigger, B. (1989). A history of archaeological thought. Cambridge: Cambridge University Press.
Wiefels, A. C. (2009). Mapeamento através de sensioramento remoto dos conflitos territoriais rurais na Ilha Grande – RJ envolvendo Estado e comunidades tradicionais. XIX Encontro Nacional de Geografia Agrária (pp.1-18). São Paulo.
Downloads
Publicado
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2025 Cláudio Baptista Carle

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

O trabalho Vestígios - Revista Latino-Americana de Arqueologia Histórica de https://periodicos-hml.cecom.ufmg.br/index.php/vestigios/index está licenciado com uma Licença Creative Commons - Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional.
Baseado no trabalho disponível em https://periodicos-hml.cecom.ufmg.br/index.php/vestigios/index.
Podem estar disponíveis autorizações adicionais às concedidas no âmbito desta licença em https://periodicos-hml.cecom.ufmg.br/index.php/vestigios/index.